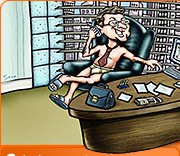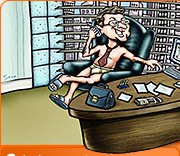Ulisses Capozoli*
De que trata o jornalismo
científico e qual a importância dessa atividade para a sociedade?
A resposta a estas questões
certamente abre espaço para compreensão e encaminhamento
de dificuldades que, sem uma perspectiva crítica, parecem
não ter solução.
O jornalismo científico
trata de assuntos que vão, literalmente, de A a Z –
o que, neste caso, pode incluir de astronomia a zoologia.
Essa abrangência levanta uma segunda questão: como os jornalistas
podem dar conta desta universalidade? Um astrônomo, metendo-se
a zoólogo, por exemplo, não correria o risco de enfiar os
pés pelas mãos?
O tema é interessante
e num outro momento voltaremos a ele. Agora, devemos dizer
que este não é o caso de jornalistas que, quase sempre,
não produzem informação primária, aquela retirada de forma
bruta da fonte. O que não significa que jornalismo interpretativo
(procedimento indispensável para o bom jornalismo, particularmente
o jornalismo científico) não produza informação primária
– neste caso, a inteligente, criativa e responsável
interpretação dos fatos para que a sociedade se alimente
dela e adote as melhores decisões para assegurar o que Galbraith
chama com sonoridade de "bem estar social".
É exatamente este o
caso envolvendo a quebra de patentes para medicamentos destinados
ao tratamento da Aids. Toda a imprensa publicou, na semana
de 4 a 11 de março, a deflagração pela indústria farmacêutica,
na África do Sul, de um processo jurídico de grandes proporções
destinado a intimidar o governo daquele país a não importar
medicamentos genéricos produzidos pelo Brasil e pela Índia
para o tratamento da Aids.
A iniciativa de mais
de 40 gigantes farmacêuticos, entre elas a GlaxoSmithKline,
a maior do mundo (Folha de S.Paulo, 6/3/2001, pág.
A9) pressiona para que o governo sul-africano recue e invalide
uma lei de 1997, criada durante o governo Nelson Mandela,
e que autoriza a importação ou produção de genéricos. Detalhe:
a África do Sul tem a maior população com o vírus do HIV
em todo o mundo (4,2 milhões de pessoas).
O protesto feito por
milhares de manifestantes em frente ao Tribunal Superior
de Pretória na segunda-feira (5/3) e a frase que repetiram
aos gritos e à exaustão – "Vidas acima de lucros"
– é a demonstração mais clara da arrogância, desumanidade
e irresponsabilidade dos conglomerados farmacêuticos dispostos
a trocar vidas humanas por lucros.
A imprensa noticia,
mas não interpreta acontecimentos como este. Por quê? Uma
resposta sintética poderia ser: mediocridade. Mas isso pode,
erroneamente, levar a crer que não existam jornalistas talentosos,
inteligentes e angustiados com problemas como esses dentro
das redações. Assim, é preciso acrescentar que a mediocridade
resulta da postura ideológica adotada por empresários de
comunicação, de completa submissão aos princípios do neoliberalismo
e que podem ser traduzidos, estes sim, numa única palavra:
lucro.
Desastres sociais
Existem muitas maneiras
de manipular a informação. Uma delas é tirar o destaque
do assunto, dar num canto, num pé de página, ou, no caso
dos telejornais, reduzir o tempo a uns poucos segundos.
É uma forma cínica de se proceder e que, no Brasil, os interesses
imediatistas e sumários do neoliberalismo levam às alturas.
Há uma contradição elementar
em agir dessa maneira. Como é possível, em países com o
perfil social do Brasil, elevar os lucros às nuvens sem
provocar um empobrecimento ainda maior da sociedade e levar,
à exclusão completa, os que já vivem na zona sombria entre
pobreza e miséria?
A iniciativa arrogante
e irresponsável da indústria farmacêutica na África do Sul,
com a intenção de inibir quebra de patentes também no Brasil,
traz de volta debates famosos do pós-guerra, quando corpos
vaporizados pelas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima
e Nagasaki levaram cientistas como Albert Einstein e Bertrand
Russell a se perguntarem: para que serve a ciência?
A ciência, afirmaram
esses homens com a convicção de que defendiam a humanidade,
é um patrimônio da humanidade e sua função é diminuir o
sofrimento humano – como disse Freud a respeito da
psicanálise.
Hoje poderíamos acrescentar:
e para que serve o jornalismo científico?
O jornalismo científico
deve contribuir para uma alfabetização crescente da sociedade
para que ela tome consciência de que abusos desse tipo,
cometidos em nome de um pretenso conhecimento exclusivo,
levam a desastres sociais que podem e devem ser evitados.
Caso contrário, a arbitrariedade, arrogância e ganância
não terão limites. Em termos sociais, o princípio da ação/reação
mostra que a conseqüência direta dessas atitudes é o crescimento
da violência. E, aí, não basta construir presídios.
Educação ambiental
Tão perturbador quanto
a negação de medicamentos para Aids a preços aceitáveis,
o que a indústria farmacêutica se recusa a aceitar, mesmo
em países pobres, é o problema da água. Essas são duas fontes
de garantia da vida.
Na edição de domingo
(4/3) o Jornal do Brasil dedicou três páginas à água,
uma delas uma entrevista com Lester Brown, diretor do The
Worldwatch Institute. Brown é um pesquisador e divulgador
de problemas ambientais em todo o mundo e, por sua postura
humanista e responsável, certamente condenaria o processo
de Pretória.
Depois de recuar para
a Idade Média, ao justificar acidentes provocados por pura
negligência e irresponsabilidade no Rio de Janeiro, como
resultado de conjunções astrológicas, é bom ver o velho
JB voltar a um tema fundamental à vida. Essa deve
ser uma obrigação comum, o sentido da imprensa. Mas, hoje,
quando alguém cumpre suas obrigações, temos razões para
comemorações e esperança.
A edição de Veja
(28/2/2001) também tratou de água na matéria "A lenta
agonia de um símbolo brasileiro", o rio São Francisco.
Em duas página e meia, a repórter Gisela Sekeff escreveu
um impressionante relato desse rio chamado "da integração
nacional". Em muitos pontos, o leito assoreado do "Chicão"
já não permite a navegação. Espécies animais e vegetais
desapareceram de suas águas ou deixaram as lagoas que secaram
às suas margens.
Refugos venenosos de
mineração e garimpo, esgoto urbano e erosão de terras ocupadas
por uma agricultura apressada estão entre os destruidores
do rio. Sem contar a introdução de espécies estranhas à
sua fauna – caso dos predadores tucunarés, que predominam
nas represas de hidrelétricas, pontos em que o fluxo do
rio é estrangulado para gerar energia.
Em agosto, informa Veja,
começa o projeto de transposição das águas do São Francisco
para irrigar o sertão de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio
Grande do Norte. Serão 1.440 quilômetros de canais e tubulações
cortando terras estorricadas. Se iniciativas parecidas não
tivessem resultado em completo desastre, seria o caso de
apostar no otimismo. As secas do Nordeste, no entanto, são
tragédias mais políticas do que ambientais.
Com propósitos louváveis
à primeira vista, as águas de dois rios (Amu Daria e Syr
Daria) que abasteciam o Mar de Aral, na antiga União Soviética,
tiveram suas águas desviadas, nos anos 60. A intenção era
dotar o país de autosuficiência em algodão. O algodão cresceu,
mutiplicou-se, abasteceu o país e deixou sobras para a exportação.
Mas o que parecia um benção acabou como praga bíblica. O
Mar de Aral está secando, espalhando doenças respiratórias
e câncer por toda sua antiga margem que, em alguns casos,
recuou em mais de 30 quilômetros e continua encolhendo.
No deserto, que já foi
o antigo leito do mar, navios pesqueiros apodrecem calcinados
pelo Sol e corroídos por tempestades de areia. A atividade
pesqueira foi encerrada e o desemprego e a fome espalham-se
pela região.
Problemas bastante complicados
também manifestaram-se na foz do rio Colorado, no Golfo
da Califórnia. No passado, uma região de rica biodiversidade,
o estuário do Colorado, rio que esculpiu o Grand Canyon
e teve parte de suas águas desviadas para a agricultura,
é atualmente uma fonte crescente de dificuldades ambientais.
Às vésperas de se fazer,
no Brasil, um empreendimento como o desvio de águas do São
Francisco, qual a postura da imprensa quanto aos seus inevitáveis
desdobramentos, incluindo os positivos?
A destruição do Mar
de Aral foi considerada o maior desastre ambiental do século
20. Já o efeito-estufa, provocado especialmente pelo gás
carbônico, resultado da destruição de florestas e atividade
industrial sem cuidados ambientais, pode ser a maior catástrofe
já produzida pela humanidade.
O terceiro relatório
do Comitê Intergovernamental de Mudanças Climáticas, aprovado
em Xangai em meados de fevereiro e divulgado por toda a
mídia, considera existir "novas e fortes evidências
de que a maior parte do aquecimento do Planeta, ao longo
dos últimos 50 anos resulta de atividades antrópicas".
Aí voltamos ao ponto
de partida. A imprensa publica, mas sem a interpretação
e didatismo que o assunto exige. Educação ambiental é uma
necessidade inadiável que a imprensa deve entender como
uma prestação de serviço. Para isso é fundamental que os
principais jornais brasileiros disponham de suplementos
científicos. Por que imitamos, em detalhes, o modelo do
jornalismo norte-americano e, no caso dos suplementos científicos,
fechamos os olhos? Por despreparo e analfabetismo científico
de diretores de redação e donos de jornais.
O problema é que o custo
dessa ignorância tende a ser elevado e, mais uma vez, distribuído
especialmente entre os mais desfavorecidos. É essa gente
que mora em encostas perigosas, fundos de vales e áreas
alagadiças, fadados a ser especialmente fustigadas por tempestades
previstas nas mudanças ambientais. Pode parecer catastrofismo,
mas é o que prevêem as simulações físico-matemáticas. No
fundo, todos pagam. Uns mais que outros.
Assunto complexo
A Folha de S.Paulo
(2/3/2001, pág A11) trouxe, com o destaque que merece, investigações
de que William Shakespeare teria sido um consumidor metódico
de cannabis, a conhecida maconha. O Correio Braziliense
deu em pé de página, o Jornal do Brasil numa pequena
nota. O Estado de S.Paulo nem tocou no assunto.
A pesquisa é um assunto
científico, resultado do trabalho de dois pesquisadores
sul africanos (Frances Thackery e Nick van der Merwe). Tanto
é que foi publicada pelo South African Journal of Science.
Defensores de uma pretensa
moralidade ferida condenaram o estudo. Stanley Wells, do
Sheakespeare Birthplace Trust, segundo a Folha, argumenta
que dos 8 milhões de pessoas que consomem cannabis
na Inglaterra nenhuma escreve como Shakespeare.
Por que deveriam, caro
senhor?
Shakespeare foi um gênio
da literatura e se recorreu, realmente, à cannabis,
certamente foi para dar liberdade à criatividade que tinha
e não para procurá-la em outro lugar. Não distinguir essa
situação é não justificar a classificação profissional de
"intelectual", alguém que deve pensar, fazer funcionar
o intelecto, antes de abrir a boca.
O assunto "drogas",
complexo e com profundas raízes em desajustes sociais como
o desemprego (entre muitos outros), apesar de andar literalmente
pelas ruas ainda é tabu para boa da imprensa. Neste caso,
a única abordagem aceita é a policial.
É claro que a cannabis
produz efeitos psicológicos e, senão em todos, pelo menos
em parte dos casos leva a uma dependência, ainda que mais
leve do que a das drogas pesadas como a cocaína, a heroína
ou o crack. Se não produzisse efeitos, a cannabis
não seria consumida.
Em partes da Europa,
nos Estados Unidos e no Brasil foi cultivada e consumida
(dona Carlota Joaquina, a fogosa esposa de D. João VI que
o diga) até a Segunda Guerra Mundial sem maiores estardalhaços.
Acabou abolida por pressão norte-americana, resultado de
uma disputa interna pelo controle da Lei Seca que vigorara
antes disso, e da ascensão social de classes baixas, nos
EUA, depois da crise dos anos 20.
Plantas mágicas, alucinógenas
ou qualquer nome que tenham são um assunto mais complexo
que permite ver a interpretação policial.
Richard Evans Schultes,
diretor do jardim botânico da Universidade de Harvard e
Albert Hofmann, químico e sintetizador do LSD, escreveram
um livro belíssimo, com a complexidade que o assunto requer:
Plants os the Gods: origins of hallucinogenic use.
Num certo momento, mostram que a estrutura química
de plantas alucinógenas imita a estrutura química de substâncias
produzidas pelo cérebro, as endorfinas. Isso significa que
eles podem atuar como uma gazua, uma chave falsa, capaz
de abrir a fechadura das células nervosas.
Pura coincidência? Difícil
acreditar que essa seja a melhor resposta.
OBS: Artigo publicado originalmente no site do Observatório
da Imprensa, do Labjor/Unicamp.
--------------------------------------------------------------------------------
*Ulisses Capozoli é jornalista especializado em
divulgação científica, historiador
científico e presidente da Associação
Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC).