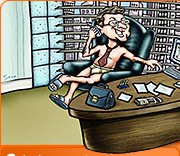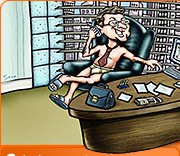Graça Caldas*
A relação
entre Ciência, Mídia e Sociedade passa, necessariamente,
pela cidadania. A democratização do conhecimento
é um pressuposto básico do exercício
pleno deste direito constitucional. Neste final de século
e virada de milênio, o acelerado desenvolvimento científico
e tecnológico e seu impacto social é inquestionável.
Como fazer, no entanto, para que C&T e qualidade de
vida caminhem juntos? Como enfrentar o desafio de um desenvolvimento
sustentável?
Em primeiro lugar, é
essencial que a opinião pública compreenda
os processos e os mecanismos da produção da
ciência. Para isso a mídia exerce um papel
insubstituível. É através dela, de
seus múltiplos canais, que a população
é informada sobre o que se passa nos laboratórios
de pesquisa ou nos gabinetes dos dirigentes de cada país.
O crescente interesse do cidadão comum pela ciência
e a ampliação do espaço nos meios de
comunicação a assuntos desta natureza, não
é, porém, acompanhado por uma reflexão
crítica da produção científica
e tecnológica do país.
"Apesar da ênfase
dada ao ambientalismo na mídia, a questão
ainda é incipiente para a grande maioria dos profissionais
de comunicação e mais ainda para o grande
público. O meio ambiente já foi apontado como
uma das principais mega-tendências para essa década
e a virada do século. O tema passará a integrar
cada vez mais o cotidiano da humanidade e os formadores
de opinião, que atuando como agentes de informação
e até de educação devem tomar consciência
da grande responsabilidade sobre seus ombros" (Viá,
1993).
Normalmente, as reportagens
veiculadas nos meios de comunicação limitam-se
a relatar o produto acabado da ciência ou da tecnologia.
A ciência fascina. Fascina a opinião pública
e também fascina seus divulgadores. Fascina a tal
ponto que o senso crítico do jornalista fica muitas
vezes embotado pelas maravilhas das últimas descobertas
do mundo científico. Não raras são
as vezes em que os pesquisadores reclamam de distorções
na divulgação da ciência, o que é
compreensível. É grande a preocupação
dos cientistas com a opinião de seus pares, diria
até que bem maior do que com a opinião pública,
que em última instância está pagando
a pesquisa que produz.
Por outro lado, a discussão
sobre a política científica, que mobiliza
os pesquisadores em suas reuniões de trabalho, praticamente
não aparece na mídia. Como são estabelecidas
as prioridades para os financiamentos das pesquisas? As
alocações de recursos estão vinculadas
aos interesses sociais? Que áreas são determinantes
para reduzir o gap tecnológico que afasta o Brasil
dos países desenvolvidos? Em tempos de globalização,
de abertura de mercado e de competição desenfreada,
qual o papel que a Ciência e a Tecnologia ocupa?
Esses temas raramente
estão presentes nas matérias científicas
divulgadas na imprensa. As poucas reflexões ficam
por conta de alguns pesquisadores que, via de regra, direcionam
seus discursos para questões como recursos ou bolsas
de estudo. Mais recentemente, a discussão tem girado
sobre a necessidade de ampliar a divulgação
da ciência, seja através da mídia, de
museus ou de centros de ciências como a bem sucedida
Estação Ciência da Universidade de São
Paulo. Nunca se falou tanto em divulgação
científica.
A disseminação
do conhecimento científico parece, finalmente, ter
se tornando uma bandeira dos próprios cientistas.
Como disse Ernst W. Hamburger, em seu artigo "A importância
dos centros de ciências", publicado na Folha
de S. Paulo (16/10/97), Editoria de Opinião, p.3,
"o que se sente é que existe uma verdadeira
fome pelo conhecimento. Dada a oportunidade, o povo, seja
universitário, seja morador de rua, quer compreender
melhor o mundo".
Paralelamente à
conscientização dos pesquisadores e dos dirigentes
da área de C&T sobre a relevância da divulgação,
verifica-se uma invasão maciça da pseudociência
-- assuntos místicos e esotéricos --, na mídia
mundial e na brasileira, em particular. Este fenômeno,
que certamente vende jornais, está preocupando cientistas
do mundo inteiro. Por que isto ocorre? Talvez porque, durante
muito tempo os cientistas acharam que seus papers deveriam
ser divulgados apenas nas revistas científicas. Trata-se,
agora, de uma corrida contra o tempo para tentar reverter
esta situação, que faz com que o povo termine
sendo "educado" com mais informações
da pseudociência do que sobre a própria ciência.
O interesse genuíno
da opinião pública pela ciência já
foi constatado no Brasil desde 1987 com a pesquisa do Instituto
Gallup. Num universo de 2.892 pessoas entrevistadas, 70%
mostraram interesse por C&T. Disseram que as informações
veiculadas na mídia eram insuficientes e defenderam
a ampliação dos investimentos em ciência
do Produto Interno Bruto (PIB), para 5%, bem mais do que
os países desenvolvidos, que aplicam cerca de 2 a
3%. Ainda hoje, uma década depois, esses recursos
ainda representam 0,8% do PIB. O Ministro da C&T, Israel
Vargas vem anunciando que até o final do governo
de Fernando Henrique Cardoso essas verbas serão praticamente
duplicadas, passando a 1,5% do PIB.
Dentro deste cenário,
o fato é que a mídia vem fazendo a sua parte.
Nos jornais, nas revistas, nas emissoras de rádio
ou de televisão surgem freqüentemente novos
espaços para a divulgação dos avanços
da ciência e da tecnologia. O que ocorre é
que esses espaços não são ocupados
de uma forma crítica e analítica. Limitam-se,
apenas, a reproduzir o produto, sem sequer mostrar seu processo
com os erros e acertos que fazem parte de qualquer pesquisa.
Este comportamento termina por produzir uma visão
mítica da ciência. É na TV Cultura,
com o programa "Brasil Pensa", criado em 1994,
que encontramos uma reflexão sobre os caminhos e
perspectivas da ciência e da tecnologia.
Apesar dos avanços
tecnológicos e científicos alcançados
neste final de século e das novas descobertas que
estão se delineando nos mais diferentes campos, o
homem continua conhecendo quase nada de si mesmo, do mundo
em que vive e dos efeitos dessas conquistas nas mais diversas
áreas para a sua vida cotidiana. Não tem controle
algum das mudanças que se sucedem, porque não
as entende. Não participa e nem fica informado sequer
do percurso da produção da ciência.
Não tendo consciência dessas transformações,
não pode participar, influenciar as políticas
científicas. Fica, portanto, sofrendo seus efeitos,
sem sequer saber de onde eles vêm.
Dubos (1972) já
mostrava a importância do jornalismo científico
ao afirmar que "já é chegado o tempo,
quando devemos produzir, ao lado dos especialistas, outra
classe de estudiosos e de cidadãos que tenham ampla
familiaridade com os fatos, os métodos e os objetivos
da ciência e, assim, sejam capazes de fazer julgamentos
a respeito das Políticas Científicas. As pessoas
que trabalham na interface entre Ciência e Sociedade
tornam-se essenciais, simplesmente porque quase tudo o que
acontece na sociedade é influenciado pela ciência".
Em última instância,
o conhecimento científico deve transformar-se em
senso comum, em auto-conhecimento. "O conhecimento
vulgar e prático com que no cotidiano orientamos
nossas ações e damos sentido à nossa
vida. A ciência moderna construiu-se contra o senso
comum, que considerou superficial, ilusório e falso.
A ciência pós-moderna procura reabilitar o
senso comum para reconhecer nesta forma de conhecimento
algumas virtualidades para enriquecer a nossa relação
com o mundo" (Sousa Santos, 1987). Cabe à mídia,
portanto, atuar como mediadora entre a ciência e a
sociedade.
Mídia e Ciência
- A ótica do jornalista na divulgação
da ciência, quase nunca coincide com a do cientista.
Por que isso acontece? Afinal, a curiosidade pelo conhecimento
e a observação dos fatos fazem parte da rotina
de trabalho de ambos. A diferença fica por conta
do método e do tempo disponível para a investigação.
Talvez os jornalistas e cientistas observem o mundo, a realidade,
a informação, de forma diferente. Se por um
lado o jornalista é movido pela atualidade dos fatos
que imagina serem de interesse da opinião pública,
o cientista persegue a explicação para esses
mesmos fatos através de hipóteses que formula
apoiado numa prática metodológica de pesquisa
mais rigorosa, que lhe permita encontrar respostas e explicações
para os fenômenos estudados.
Na verdade, apesar das
polêmicas e dos conflitos na relação
entre cientista e jornalista, que vêm se arrastando
há pelo menos duas décadas, é inegável
que o profissional da comunicação exerce um
papel fundamental na interface entre ciência e sociedade.
Como agente mediador entre esses dois pólos, sua
responsabilidade é ímpar na disseminação
do conhecimento científico e tecnológico.
Entretanto, para evitar o sensacionalismo e as distorções
na divulgação da informação,
jornalistas e cientistas devem atuar em parceria, procurando
cada um compreender o método e o processo de trabalho
do outro: da produção científica e
da produção da notícia. Só assim
será possível uma colaboração
mútua para uma divulgação competente
da C&T.
Ao jornalista cabe entender
que a ciência trabalha com um sistema de dados, hipóteses,
teorias e técnicas e ao cientista, que o jornalista
tem um prazo para fechamento da matéria que pode
variar de horas a uma semana ou, no máximo um mês,
quando se tratar de revista especializada. É preciso
que jornalistas e cientistas percebam que o laboratório
da sociedade é muito maior e mais complexo que o
de uma instituição de pesquisa ou de uma redação
de jornal.
Jornalistas X Cientistas
- A divulgação competente da ciência
passa, necessariamente, pelo formação do jornalista.
É necessário compreender o papel da ciência,
seu potencial e limites, bem como ter claro que a produção
da C&T depende, necessariamente, de sua relação
com o Estado e a sociedade.
Partindo deste pressuposto,
como deve atuar um jornalista científico? Sua linguagem,
embora dirigida ao leigo, deve ser acompanhada de um rigor
científico na precisão da informação.
A decodificação dos jargões técnicos
a partir do ponto de vista do leitor é essencial
para a elaboração adequada da informação
a ser veiculada.
Na apuração,
a diversidade das fontes deve ser um princípio básico.
Não se trata apenas de ouvir o outro lado como mandam
os manuais de redação. Em se tratando de assunto
científico, todo cuidado é pouco para evitar
um erro ou até mesmo ser instrumentalizado pelo cientista.
Na elaboração do texto, é necessário
contextualizar os fatos observados em toda a sua dimensão
política e histórica. Na divulgação
da ciência e da tecnologia, a informação
meramente factual é um desserviço à
opinião pública. O jornalista não pode
esquecer-se de seu papel educativo.
E o cientista? Quais
seriam os princípios básicos que devem nortear
seu comportamento na relação com o jornalista?
Em primeiro lugar, deve ter claro que a democratização
do conhecimento científico depende de sua colaboração.
É de sua responsabilidade divulgar a ciência
que produz. Nunca é demais lembrar que cabe ao Estado,
através dos impostos públicos, que impõe
ao cidadão, o financiamento da pesquisa.
Procurar compreender
o imediatismo dos meios de comunicação e colaborar
com o jornalista na divulgação de sua pesquisa
é tarefa do pesquisador. Deve também, sempre
que possível, fornecer material impresso em linguagem
acessível, para fundamentar melhor o trabalho do
jornalista. Procedendo desta forma, estará correspondendo
ao interesse popular pela ciência e ajudando a reduzir
as "confusões" criadas pela pseudociência.
A responsabilidade da divulgação deve ser
compartilhada entre cientistas e jornalistas.
Imprensa e Meio Ambiente
- Na sociedade de espetáculo, onde a informação
é uma mercadoria como outra qualquer, a indústria
cultural banalizou o papel da imprensa, que parece esquecer-se
de sua responsabilidade social na formação
da opinião pública para transformar-se em
mais uma empresa em busca do lucro. Dentro deste cenário
pouco animador, a questão ambiental assume uma proporção
especial. Isto porque, como lembram René Dubos e
Barbara Ward, em livro publicado em 1972 nos Estados Unidos,
"Only one Earth", o planeta Terra é um
só e não podemos deixar de lutar por sua preservação,
sob o risco do desaparecimento de toda a Humanidade.
Os limites do crescimento
econômico e demográfico foram apontados nos
relatórios do Clube de Roma, publicados em 1974.
O objetivo era chamar a atenção mundial para
os problemas ambientais face à industrialização
desenfreada. No Brasil, a ECO-92 realizada em julho, no
Rio de Janeiro, parece ter acordado os dirigentes e políticos
para as questões ambientais, principalmente o desflorestamento,
poluição atmosférica, recursos hídricos
e a necessidade de preservação da biodiversidade.
Como a aplicação
dos três acordos principais gerados na ECO-92, a Declaração
do Rio, a do Clima, a Agenda-21 e a Convenção
sobre Biodiversidade, depende fundamentalmente de decisão
política e de recursos, a política ambiental
não pode andar dissociada da economia ambiental.
Neste sentido, apesar da existência de fontes internacionais
de financiamento para as pesquisas ambientais no Brasil,
o papel do Congresso Nacional não pode ser esquecido.
Em junho deste ano foi criada uma Frente Parlamentar em
Defesa do Sistema Nacional de C&T. A iniciativa deve
contar com a colaboração dos cientistas em
geral e dos pesquisadores da área ambiental em particular,
para que ciência e tecnologia sejam encaradas como
ferramentas do desenvolvimento do país, um desenvolvimento
sustentável, que não permita o esgotamento
dos recursos naturais.
Uma das peças
chaves para a conscientização social da necessidade
na preservação do Meio Ambiente é a
Educação Ambiental. Sua importância
já foi reconhecida pelos autoridades educacionais
que implantaram disciplina com o mesmo nome nos currículos
escolares. A Educação Ambiental virou até
mesmo peça de marketing de empresas aflitas por melhorar
sua imagem junto à opinião pública.
É preciso, porém, tomar cuidado com esses
modismos e verificar até que ponto a retórica
transforma-se em ações concretas.
O exercício da
cidadania ambiental só pode ser efetivado aqui em
Campo Grande, no Pantanal, no resto do Brasil, se houver
uma ação conjunta de cientistas e jornalistas
atuando em sintonia com a sociedade brasileira. Os ecossistemas
que formam o Pantanal, assim como os demais ecossistemas
brasileiros devem ser amplamente divulgados. O conhecimento
da importância da manutenção da diversidade
florística (vegetação ) e faunística
do Pantanal precisa ser disseminado para a sociedade em
geral através da mídia. Sua divulgação
não pode, no entanto, prescindir de explicações
claras e convincentes.
As estratégias
de divulgação não devem, porém,
se limitar à mídia convencional. As formas
alternativas de comunicação existentes nas
universidades, instituições de pesquisa, escolas,
museus, entidades sindicais e civis, associações
de bairros, todas elas precisam fazem parte desta cadeia
de informação pela preservação
ambiental. Afinal, a Terra é uma só e de todos
nós.
Bibliografia
DEBORD, Guy. "A sociedade do espetáculo".
Ed. Contraponto, RJ, 1997.
DUBOS, René. "O Despertar da Razão".
Melhoramentos/Edusp, SP, 1972.
DUBOS, René e WARD, Bárbara. "Uma Terra
somente - a preservação de um pequeno planeta".
Edusp, SP, 1973.
FERNANDES, Ana Maria. "A construção
da ciência no Brasil e a SBPC". Ed. UnB, Brasília,
1990.
HAMBURGER, Ernst W. "A importância dos centros
de ciências". Folha de S. Paulo (16/10/96), Editoria
de Opinião, p. 3.
KUNSCH, Margarida e DENCKER, Ada (orgs.). "Comunicação
e Meio Ambiente". Coleção Intercom nº
r, 1996.
LATOUR, Bruno e WOOLGAR, Steve. "A Vida de Laboratório
- A Produção dos fatos científicos".
Ed. Relume Dumará, RJ, 1997.
LOPES, J. Leite. "Ciência e Libertação".
Ed. Paz e Terra, RJ, 1969.
MOREL, Regina. "Ciência e Estado: a Política
Científica no Brasil". T.A. Queiroz, SP, 1979.
MORIN, Edgar. "Ciência com Consciência".
Biblioteca Universitária. Publicações
Europa-América, Portugal, 1990.
OLIVEIRA, Fabíola. "Democracia, meio ambiente
e jornalismo no Brasil". In Comunicação
e Meio Ambiente. Coleção , nº 5, 1996.
ROQUEPLO, Philippe. "La Partage du Savoir". Science,
Cultura e Vulgarisation. Seuil, Paris, 1974.
SANT`ANNA, Vanya. "Ciência e Sociedade no Brasil".
Coleção ensaio e memória nº 8.
Ed. Símbolo, SP, 1978.
SOUSA SANTOS, Boaventura de. "Um discurso sobre as
ciências". Ed. Afrontamento, Porto, Portugal.
1987.
TRAJBER, Rachel e MANZOCHI, Helena. (Coordenação).
"Avaliando a Educação Ambiental no Brasil:
materiais impressos". Ed. Gaia, SP, 1996.
VIÁ, Sarah Chucid da. "Formação
de recursos humanos: a comunicação nas questões
ambientais - propostas de ensino e pesquisa". In Comunicação
e Sociedade - Ecologia. Ano XI , nº 19, Março
de 1993.
VIGEVANI, Tullo. "Meio Ambiente e Relações
Internacionais: A questão dos financiamentos".
In Ambiente e Sociedade. Ano I, nº 1, 1997.
ZIMAN, John. "Conhecimento Público". Itatiaia,
Belo Horizonte/Edusp, SP, 1979.
----------------- "A Força do Conhecimento".
Itatiaia, Belo Horizonte, Edusp, 1981.
--------------------------------------------------------------------------------
* Graça Caldas é Jornalista, professora e
pesquisadora do Programa de Pós-Graduação
em Comunicação da UMESP, pesquisadora-associada
do Labjor-Unicamp, Coordenadora do Curso de Jornalismo e
Diretora Acadêmica da Associação Brasileira
de Jornalismo Científico (ABJC).